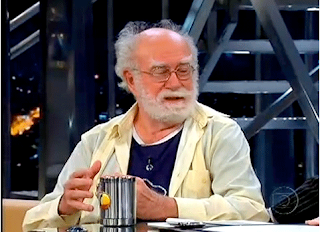A educação para o consumo passa obviamente pelo uso racional do dinheiro, pela priorização do que é mesmo necessário e pelo aprendizado em favor de escolhas responsáveis na hora da compra de bens e serviços. Passa também pelas leis de proteção e de defesa do consumidor e pela própria consciência que cada pessoa ou grupo de pessoas tem da sua força de pressão sobre o mercado. Mas passa, antes de tudo, pelo modo como inspiramos uns aos outros em simples e caseiros comentários cotidianos.
Uma das formas desse educar, que mais me parecem tranquilas e de grande eficiência, está nas observações despretensiosas que normalmente fazemos diante dos acontecimentos. Tudo o que testemunhamos no próprio lugar ou o que sabemos pelo noticiário e por meio de redes de relacionamento dá margem a comentários educativos. A riqueza das contradições constitui uma inesgotável fonte de formação, o que faz da apreciação espontânea uma prática educacional desenvolvida em uma série de circunstâncias.
Os exemplos que facilitam o compartilhamento da nossa maneira de ver a questão do consumo que não mede consequências surgem a todo momento e nos mais variados domínios e situações. Tomando como referência o caso do recolhimento, na semana passada, das peças da coleção "Pelemania", das lojas Arezzo em todo o Brasil, é possível despertar um sem-número de conversas e atitudes. Afinal, a empresa respeitou o posicionamento dos consumidores, após intensos protestos nas mídias de relacionamento contra a venda de produtos confeccionados com peles de animais.
O interessante é que essas manifestações traduziram uma rejeição ao uso de peles verdadeiras, a despeito de certificados de origem, o que demonstra o crescimento da intolerância da sociedade diante de certas práticas contra a natureza. Rejeição essa que alcançou as modelos que levaram para as passarelas e comerciais as bolsas, bijuterias e estolas da grife, feitas de peles de coelhos e raposas. Uma delas, Emily Germano, respondeu às acusações na própria internet: "Gente sou apenas uma modelo, não uso e nem compro pele de animais, parem de me chingar!!!" (sic).
Independente de ela ter escrito xingar com "ch" - o que infelizmente acabou desviando a atenção de muita gente do foco do problema - dentro da resposta da modelo revela-se uma grave sutileza, normalmente identificada no posicionamento de muitos profissionais que servem à promoção do consumo, embora não comprem nem usem os produtos a que atribuem valor e dão visibilidade. Levantar dúvidas sobre essas posturas e comentá-las com os filhos é fundamental na paciente e complexa missão de desconstrução do consumismo.

A mesma reação alienada e alienante de Emily foi demonstrada pela cantora Sandy no mês passado, quando questionada pela colunista Mônica Bergamo (FSP, 08/03) sobre a associação da sua imagem de boa moça à cerveja Devassa: "Essa é uma discussão que não cabe a nós, artistas. Somos contratados para fazer propaganda. Se é bom para nós, a gente vai lá e faz. Todos são autorizados a beber. Essa responsabilidade não cabe aos artistas. Essa discussão é para psicólogos, deputados, especialistas. Não quero me meter".
Ao afirmar que não quer se meter nessa questão - mesmo metida até o último cheque do seu contrato - Sandy se coloca como se não tivesse nada a ver com o crescimento do consumo desordenado de álcool por adolescentes, embora seja uma cantora identificada com esse público. Sua desculpa é semelhante a da modelo da Arezzo. Uma pede para não ser alvo de xingamentos, por não usar nem comprar pele de animais, e a outra, se esquiva das críticas sob o argumento de que "a gente não precisa gostar exatamente do produto para fazer a propaganda". E, talvez para não desagradar o patrocinador, jura "por Deus" que experimentou e gostou da cerveja.
Na didática da conversa solta não é necessário fazer qualquer atalho para dizer quem tem ou não razão. Basta deixar o assunto circular. Se tiver como alimentar o tema com contrapontos, então, a possibilidade de êxito aumenta. Na mesma coluna (20/02) uma entrevista com o Rivaldo, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, chamou a minha atenção. Ele sustenta que não há fortuna no mundo que o leve a fazer propaganda de bebida alcoólica. "Sou um atleta e quero ser um exemplo, principalmente para as crianças que gostam de esporte". Depois de uma declaração dessas, a percepção de que lucrar com a imagem tem vínculo direto com o respeito a quem precisa dela para se espelhar fica naturalmente disponível para ao discernimento de cada um.
E quando esse tipo de recurso não faz parte das práticas familiares e escolares? Ora, as crianças ficam sem a oportunidade de referências comparativas e quase sempre embarcam no cruzeiro do consumismo. Achei muito sintomáticas as respostas de umas mães que foram entrevistadas pelo repórter Paulo Sampaio (Fashion Kids reúne ´socialitezinhas´, OESP, 03/04), tendo como recorte a participação das filhas em um desfile de moda infantil, que acontece no shopping Iguatemi de São Paulo: "A minha filha quer óculos Chanel, Prada. A gente gosta de coisa boa, elas aprendem", anuncia o alheamento de uma; "Eu não imagino minha filha colocando uma roupa da Renner nem para dormir", complementa o preconceito da outra.
Estou escrevendo esse texto
Por mais deploráveis que possam ser tais situações faz bem comentá-las abertamente
A apreciação desprendida de juízo imediato cria ambiente para o conforto das considerações e facilita o exercício educacional, sedimentado pelas interrogações que cada fato aporta ao instante. E temos que começar esse exercício o mais cedo possível. As corporações de produtos infantis, que vinham atraindo a meninada com games, filmes e best-sellers de possessões, demônios incontroláveis e situações apocalípticas, começam a atacar com marketing neonatal, iniciando o assédio à infância com brindes de produtos a recém-nascidos ainda na maternidade.
Um bom comentário a ser ventilado nas ocasiões propícias é o que põe na conversa a atenção com que a lei observa a criança mesmo em letras voltadas para adultos. É o caso da nova legislação antifumo da Espanha que proíbe as pessoas de fumarem em parques infantis, e da lei estadunidense que não permite a ninguém fumar em carro com crianças. Esses casos servem para os nossos filhos saberem que nem tudo está perdido.